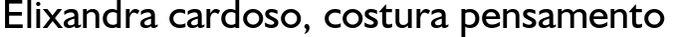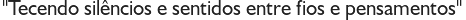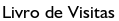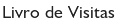21/06/2025 16h53
Estruturalismo: a busca pela estrutura invisível do sentido
A filosofia, desde suas origens, buscou encontrar fundamentos últimos para a realidade. Com o passar dos séculos, essa busca deslocou-se: em vez de buscar uma substância essencial, muitos passaram a buscar estruturas / molduras invisíveis que organizam o visível. Nesse cenário surge o estruturalismo, movimento que floresceu principalmente no século XX, propondo que a realidade humana só pode ser compreendida por meio das estruturas que a sustentam, ainda que essas estruturas não sejam imediatamente perceptíveis.
Ao contrário das abordagens tradicionais que colocam o sujeito como origem de sentido, o estruturalismo sugere que o sujeito é um efeito dessas estruturas. Em outras palavras, antes de sermos autores do que dizemos, pensamos ou fazemos, já estamos inscritos em sistemas: a linguagem, a cultura, os mitos, as instituições. Claude Lévi-Strauss, por exemplo, mostrou que os mitos e os ritos das sociedades não são aleatórios, mas seguem uma lógica estrutural comum — mesmo que seus conteúdos variem imensamente. O interesse não está mais no que as pessoas pensam, mas na forma como elas pensam: há uma gramática oculta que estrutura o pensamento coletivo.
Essa proposta tem implicações filosóficas profundas. Ela questiona a ideia de liberdade como autonomia absoluta e coloca o sujeito num campo já determinado por regras que ele não escolheu. Para os estruturalistas, como Roland Barthes, até a narrativa é uma estrutura que impõe formas de ver o mundo. Dizer, portanto, que algo é “natural” ou “óbvio” revela apenas nosso esquecimento de que estamos operando dentro de uma estrutura / a qual poderia ser outra, se nossa história ou cultura fosse diferente.
No campo da linguagem, Ferdinand de Saussure estabeleceu as bases do pensamento estrutural ao mostrar que o significado das palavras não vem de uma relação direta com a realidade, mas da diferença entre os signos dentro do sistema da língua. O significado não está “dentro” da palavra, mas emerge das relações entre as palavras. Isso nos leva à constatação de que o sentido é sempre relacional, nunca absoluto.
Contudo, o estruturalismo não escapou de críticas. Pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida, embora influenciados por ele, apontaram seus limites. Foucault, por exemplo, mostrou que as estruturas são também históricas e mutáveis, e que o poder desempenha papel fundamental na sua constituição. Já Derrida desconstruiu a ideia de uma estrutura estável, mostrando que toda estrutura contém tensões e fissuras internas que a tornam instável. Assim, o que parecia sólido e permanente revelou-se também precário.
No fim das contas, o estruturalismo nos convida a uma espécie de humildade ontológica: somos menos autores do mundo do que intérpretes de um jogo cujas regras nos antecedem. Mas essa constatação não é paralisante / ao contrário, ela pode abrir caminhos. Ao reconhecer as estruturas que nos formam, podemos, quem sabe, começar a transformá-las.
"Foucault, por exemplo, mostrou que as estruturas são também históricas e mutáveis, e que o poder desempenha papel fundamental na sua constituição."
🔍 O que o estruturalismo dizia antes?
Os estruturalistas, como Lévi-Strauss e Saussure, acreditavam que existem estruturas universais, mais ou menos fixas, que organizam a cultura, a linguagem e o pensamento humano. Essas estruturas seriam como um “sistema por trás do palco”, e o ser humano só agiria dentro delas. Mas aí entra Michel Foucault.
🧠 O que Foucault criticou?
Foucault concorda em parte com o estruturalismo: ele também acha que existem “sistemas” (ou regras, ou estruturas) que moldam nosso pensamento, nossa linguagem, nossa forma de agir. Mas ele discorda da ideia de que essas estruturas são fixas ou universais.
Para ele, essas estruturas mudam com o tempo, de acordo com os jogos de poder de cada época.
🧩 Exemplo:
Na Idade Média, quem definia o que era “loucura” era a religião. No século XIX, isso muda: agora são os médicos, os hospitais, os saberes científicos que definem isso. Ou seja, a estrutura que define o que é “normal” e o que é “louco” mudou.
Isso mostra que as estruturas não são eternas, mas são históricas.
⚙️ E onde entra o poder?
Para Foucault, o poder não é só uma força opressora, como uma ditadura, mas sim algo que circula nas relações sociais, nos discursos, nos saberes.
Quem tem poder define a verdade da época.
Quem tem poder cria as regras do que é certo ou errado.
Isso tudo forma as “estruturas” da sociedade. Então, as estruturas (como o que é considerado normal, verdadeiro, permitido) não nascem do nada, mas são formadas e moldadas pelo poder.
Resumindo tudo:
Os estruturalistas achavam que existem estruturas fixas, invisíveis, que organizam nossa vida.
Foucault disse: essas estruturas mudam com a história, com as ideias dominantes de cada época.
E quem define essas ideias dominantes é o poder.
Por isso, para Foucault, não existe estrutura neutra ou eterna: tudo é histórico, mutável e ligado ao poder. Foucault acrescentaria: não é só a troca de quem tem o poder (de padres para médicos), mas a própria forma de exercer esse poder que muda / e isso muda profundamente a nossa experiência de mundo. Foucault acrescenta:
> “Não mudou só quem define, mas como esse poder atua.”
Antigamente:
O padre dizia: "Você está possuído. Vai ser exorcizado, isolado ou punido."
Era um poder visível, direto, autoritário.
Hoje:
O psiquiatra diz: "Você tem transtorno bipolar tipo II. Vai tomar remédio, fazer acompanhamento, talvez se afastar do trabalho."
Parece mais cuidadoso, neutro, mas ainda é um poder que classifica, controla e regula a vida.
Ou seja, Foucault quer mostrar que o poder moderno não manda de forma brutal como antes, mas atua de forma sutil, através de saberes, exames, laudos, manuais (como o DSM da psiquiatria). É um poder disfarçado de cuidado, mas que continua organizando o que é certo, o que é desvio, quem precisa ser tratado, afastado, medicado.
E como isso muda nossa experiência do mundo?
Porque hoje:
A gente pensa sobre nós mesmos usando esses discursos.
Em vez de dizer “sou triste”, alguém diz: “sou depressivo.”
Em vez de dizer “sou esquisito”, pode dizer “tenho um transtorno do espectro autista.”
Percebe? Nós incorporamos esses discursos estruturais em nossa própria identidade.
Trecho de segundo ensaio
Na sociedade contemporânea, a tristeza / uma experiência humana comum e até necessária / muitas vezes é rapidamente diagnosticada como depressão. O sujeito que busca auxílio encontra, não escuta ou acolhimento, mas uma estrutura de saber-poder que já está pronta para nomeá-lo: “você está com transtorno depressivo.” Essa nomeação não vem sozinha / ela carrega consigo prescrições, medicações, afastamentos e, muitas vezes, uma nova identidade que o sujeito passa a incorporar.
Como observou Foucault, o poder moderno não se impõe à força, mas age por meio de discursos aparentemente neutros, como o da ciência. O diagnóstico não é apenas uma descrição do que se vê, mas uma forma de controle, de enquadramento da existência. Cada vez mais, o sistema cria “eus adicionais”: eu ansioso, eu borderline, eu bipolar. A multiplicação dos diagnósticos cria uma fragmentação do sujeito, que se vê reduzido a rótulos clínicos.
E isso não é neutro: está inserido numa lógica de consumo. A farmácia, a indústria da saúde mental, o mercado de terapias e tratamentos / todos lucram com esse processo. A patologização da vida cotidiana se transforma, assim, em uma engrenagem do capitalismo: quanto mais diagnósticos, mais remédios, mais lucro. Até mesmo os relacionamentos entram nesse circuito / o comportamento do outro pode ser rotulado, classificado e descartado com base em categorias psiquiátricas popularizadas.
No fim, resta a pergunta: será que estamos vivendo nossas experiências, ou apenas tentando nos encaixar nos nomes que nos deram?
Acréscimo da visão ampliada
Homem e mulher: não são “essências”, mas construções
Foucault entenderia o masculino e o feminino como categorias históricas, criadas e mantidas por discursos sociais e instituições.
No século XIX, os médicos diziam que a mulher era “naturalmente mais emotiva e instável”, justificando que ela deveria cuidar da casa e não participar da política.
Esse discurso não era neutro: ele justificava uma relação de poder entre homens e mulheres / o que é exatamente o que chamamos de patriarcado. O patriarcado como uma tecnologia de poder
Para Foucault, o patriarcado não é apenas uma cultura machista; ele é um sistema de poder que organiza corpos, comportamentos e funções sociais.
Ele define o que é "ser uma boa esposa", "ser um homem viril", "ser uma mãe de verdade".
Usa discursos (religiosos, jurídicos, médicos) para produzir essas identidades como se fossem naturais, quando na verdade são normas impostas.
O corpo como lugar do controle
Foucault dizia que o corpo é um campo onde o poder atua. Então:
O corpo da mulher foi vigiado, normatizado, medicalizado.
A sexualidade feminina foi tratada como algo perigoso ou descontrolado (o que justificava o controle da mulher).
A maternidade foi imposta como destino “biológico”. Mas tudo isso, para Foucault, não tem base natural / é criação social a serviço do poder.
Não se trata de inverter os papéis, mas de questionar a estrutura
Foucault não proporia simplesmente trocar o domínio masculino pelo feminino. Ele questionaria a própria ideia de que papéis fixos deveriam existir. Seu foco seria libertar os corpos e os sujeitos das amarras desses discursos, permitindo que cada um construa sua existência sem precisar se encaixar em rótulos históricos de “homem” ou “mulher”.
Para Foucault, o patriarcado é um regime de poder que produz a diferença entre homem e mulher como se fosse natural.
Essas diferenças são, na verdade, efeitos de discursos históricos (religiosos, médicos, jurídicos). Ele não busca trocar papéis, mas desmontar a ideia de que os papéis devem existir. O que está em jogo é a liberdade dos corpos diante dos sistemas que querem controlá-los.
A biologia existe / mas o que fazemos com ela é construção social
A biologia reconhece diferenças entre corpos com útero, pênis, hormônios, cromossomos. Isso é inegável. Mas Foucault diria: O problema não é a diferença biológica o problema é como a sociedade transforma essa diferença em hierarquia.
Se a mulher menstrua → não pode liderar.
Se o homem tem mais massa muscular → é mais forte → deve dominar. A diferença vira justificativa de poder.
Emoção, força, razão: são realmente diferenças naturais?
A ideia de que mulheres são mais emocionais e homens mais racionais é histórica, não biológica.
Estudos mostram que emoções são igualmente intensas nos dois sexos, mas a cultura ensina os homens a reprimir.
Força física é uma média estatística, mas não define inteligência, empatia, nem liderança. Ou seja: as diferenças existem, mas o modo como interpretamos e usamos essas diferenças é uma construção histórica. É isso que Foucault e outras correntes (como Judith Butler) questionam.
Somos um ser humano sem sexo?
Foucault não diria que não temos sexo, mas que o modo como o sexo foi usado para definir quem somos é um problema. > “A sexualidade moderna não é apenas sobre prazer, mas sobre identidade: nós somos o que desejamos. O sexo passou a ser um discurso de verdade sobre nós mesmos.” Ou seja, antes, você apenas era uma pessoa. Agora, você tem que ser: Heterossexual ou homossexual. Homem de verdade ou mulher de verdade. Masculino ou feminino conforme regras culturais. Foucault convida a romper com isso: não nos reduzirmos a uma essência sexual.
A biologia existe, mas ela não determina como devemos viver.
Diferença não precisa virar desigualdade.
Foucault não nega o corpo, mas questiona os rótulos que a sociedade impõe a partir dele.
O ideal seria um mundo onde você pudesse ser quem é, sem que o seu sexo definisse seus limites, seu papel ou sua identidade.
Elixandra Cardoso
Publicado por Elixandra (costura pensamento filosófico) em 21/06/2025 às 16h53
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. 20/06/2025 00h15
Filosofia da Mente: o enigma entre o pensar e o ser
A Filosofia da Mente é, talvez, uma das áreas mais intrigantes da filosofia. Desde a Antiguidade, pensadores buscam compreender o que é a mente, como ela se relaciona com o corpo e qual é a natureza da consciência. Mais do que isso: é uma tentativa de entender o que significa ser um sujeito, um "eu" que sente, pensa, age / e se pergunta sobre si mesmo.
O corpo pensa? A mente age?
A questão mente-corpo é central. Platão já distinguia a alma como algo imaterial, prisioneira do corpo. Descartes, séculos depois, consolidou essa separação dizendo: “Penso, logo existo.” Para ele, a mente é uma substância pensante (res cogitans), separada do corpo, que é apenas extensão física (res extensa). Essa visão dualista foi influente, mas logo encontrou críticas.
Se a mente é separada do corpo, como interagem? Como uma ideia provoca uma ação muscular? Como uma emoção afeta o batimento cardíaco?
A mente é o cérebro?
Na modernidade, a ciência se aproximou dessas questões com novas lentes. A neurociência e a psicologia apontam para uma relação íntima entre mente e cérebro. Surge o fisicalismo, que afirma: tudo o que existe é físico, inclusive a mente. Nesse ponto de vista, pensamentos e emoções não passam de processos cerebrais: descargas elétricas, sinapses, neurotransmissores.
Mas essa explicação convence totalmente?
A Filosofia da Mente contesta: “Explicar o funcionamento não é o mesmo que explicar a experiência.”
O problema difícil da consciência
O filósofo David Chalmers formulou o chamado “problema difícil da consciência”:
> Podemos entender como o cérebro processa informações, mas por que há experiência subjetiva? Por que sentir uma dor não é apenas uma resposta física, mas algo que dói por dentro?
Essa dimensão subjetiva, chamada de qualia (as qualidades da experiência / como “o vermelho do vermelho” ou “o gosto do café”) ainda escapa às explicações científicas. A mente, portanto, não é apenas um software biológico operando num hardware cerebral.
Consciência: uma ilusão ou uma base do real?
Alguns pensadores contemporâneos, como Daniel Dennett, sugerem que a consciência pode ser uma ilusão funcional. Outros, como Thomas Nagel, afirmam que há algo essencial na experiência subjetiva que não pode ser reduzido. Já correntes como o panpsiquismo propõem que algum grau de consciência está presente em toda a matéria / um retorno filosófico ao espírito da natureza, como em Spinoza ou até no budismo.
A mente, nesse cenário, não seria um produto tardio da evolução, mas um aspecto fundamental da realidade.
Mente, identidade e liberdade
Além da consciência, a Filosofia da Mente reflete sobre a identidade pessoal:
> O que nos torna quem somos? Mudamos de pensamentos, memórias, corpo… mas ainda dizemos “eu”. Esse “eu” é uma continuidade real ou uma construção narrativa?
A questão da liberdade também entra: se a mente é determinada por leis físicas, existe livre-arbítrio? Ou somos apenas espectros conscientes de decisões já tomadas em nível inconsciente?
Conclusão
A Filosofia da Mente está no cruzamento entre ciência, metafísica, ética e espiritualidade. Ela não apenas pergunta “como pensamos”, mas o que é pensar, o que é ser, o que é estar consciente de si e do mundo.
Vivemos em um tempo onde tudo parece explicar a mente de fora / mas talvez ainda falte coragem para escutá-la por dentro. Elixandra Cardoso Publicado por Elixandra (costura pensamento filosófico) em 20/06/2025 às 00h15
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. 19/06/2025 16h09
🪞 O Mundo Dividido: Entre Nietzsche e Platão
Desde os primórdios do pensamento, o ser humano busca sentido / entre o visível e o invisível, entre o corpo que toca e a alma que deseja. Platão, com sua maestria, desenhou um mapa metafísico: de um lado o mundo sensível, feito de sombras e impermanências; do outro, o mundo inteligível, onde repousa a verdade, a justiça, a ideia eterna do bem. Era uma filosofia para aqueles que ansiavam por mais do que os olhos podiam ver.
Séculos depois, o Cristianismo beberia dessa fonte. O céu cristão é o reflexo do mundo das ideias. A Terra se torna um vale de lágrimas, um palco provisório, onde o corpo é tentação e a alma espera redenção. A morte não é fim, mas passagem. A vida aqui é apenas o ensaio para a vida real / a eterna.
Nietzsche então se ergue como trovão. Acusa: “O Cristianismo é Platonismo para o povo.” Para ele, essa metafísica dualista é um veneno. É a negação da vida, é o desprezo pela carne, é a castração do desejo. O que deveria ser vivido foi condenado como culpa. O instinto foi reprimido em nome da salvação. A alma foi exaltada e o corpo humilhado. A vida presente, sacrificada a um ideal ausente.
Ele propõe uma transvaloração: um novo tipo de humano / o além-do-homem / que afirma a vida em sua totalidade. Um homem que ama o caos, o acaso, o corpo, o instante. Um homem que não precisa de além-mundos para justificar sua existência.
Mas…
🜂 Em Defesa de Platão: O Mundo das Ideias como Fundamento
Será que Nietzsche não está errado em sua revolta? Será que sua crítica à metafísica não é, na verdade, uma reação visceral àquilo que ele não compreendeu em profundidade?
Platão não nega o corpo / ele o situa. O sensível não é desprezível, mas transitório. O inteligível não é uma negação da vida, mas a sua orientação mais alta. O desejo humano não é um erro: é um movimento de retorno ao que é pleno. O amor, para Platão, é exatamente isso / o desejo de reencontro com a Beleza que nos escapa no mundo visível, mas que existe de forma plena no mundo invisível.
Nietzsche acreditava que a ausência é o que move o desejo. Platão diria: sim / mas essa ausência não é ilusão, é memória de um lugar mais real. O inteligível não nega a vida / ele a fundamenta.
E quanto ao Cristianismo? É verdade que muitas leituras dogmáticas causaram repressão, medo e culpa. Mas isso não invalida a metafísica platônica, apenas mostra como ela pode ser mal usada. O fato de uma ferramenta ter sido mal aplicada não significa que ela deva ser descartada. A alma não é oposta ao corpo / é a forma mais elevada da existência que o corpo tenta alcançar.
Nietzsche queria nos salvar da repressão. Platão queria nos lembrar de quem somos. Um viu o perigo da transcendência mal interpretada. O outro sonhou com a plenitude que se esconde por trás do véu do sensível.
✨ Conclusão: Nem só corpo, nem só ideia / mas o caminho entre
Entre Platão e Nietzsche talvez esteja o caminho mais humano:
afirmar o corpo, sem matar o espírito,
buscar o eterno, sem negar o instante. Porque o desejo precisa de sonho, mas também de toque. Porque a alma quer voar, mas sempre volta para casa, no corpo.
Introspecção
🧠 O Cristianismo como Platonismo para o Povo
Nietzsche dizia:
> “O Cristianismo é Platonismo para o povo.” (Crepúsculo dos Ídolos)
📚 . Herança de Platão: o mundo dividido
Platão separou a realidade em:
Mundo sensível (o aqui e agora, material, imperfeito)
Mundo inteligível (o eterno, invisível, perfeito)
Essa ideia foi assimilada pelo Cristianismo, que reinterpretou assim:
Mundo sensível = mundo pecaminoso, terreno
Mundo inteligível = céu, reino de Deus, salvação
🩸. Nasce o dualismo moral:
A consequência disso foi uma divisão dentro do próprio ser humano:
Corpo x Alma
Desejo x Pureza
Terra x Céu
Vida presente x Vida eterna
Nietzsche enxergava isso como uma negação da vida, uma traição ao corpo, ao instinto e ao real.
🧬 . Culpa, pecado e repressão
O Cristianismo, nessa leitura, introduziu o “vírus da culpa”:
Disse que somos pecadores por natureza.
Que devemos nos sacrificar, negar prazeres, reprimir desejos.
Que essa vida é apenas um “teste” para outra.
Nietzsche vê nisso uma forma de adoecimento da alma, de aprisionamento da vontade, de desvalorização da existência concreta.
🌿 Nietzsche propõe:
Um retorno à terra, ao corpo, ao aqui e agora. Não em busca de um “pecado livre”, mas de uma vida afirmada — com seus impulsos, tragédias, alegrias e dores.
elixandra cardoso Publicado por Elixandra (costura pensamento filosófico) em 19/06/2025 às 16h09
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor.  15/06/2025 20h33
A Beleza Gravada: A Geometria do Primeiro Amor
"A Geometria do Desejo: Quando o Cérebro se Apaixona por um Rosto"
Há uma beleza que não se vê, mas se sente, como um sussurro do passado entre os olhos e a memória. Não é a beleza das revistas, nem a dos padrões sociais / é a forma misteriosa e íntima que o cérebro esculpiu em silêncio quando amamos pela primeira vez.
Dizem que a paixão, quando chega pela primeira vez, é como um incêndio suave: queima devagar, mas marca para sempre. O cérebro, ainda inexperiente, grava com intensidade cada traço daquele rosto amado / as proporções, a distância entre os olhos, o contorno da boca, a geometria daquele corpo que por um breve instante foi casa.
A gravura invisível do cérebro
O cérebro grava experiências marcantes com mais força. A primeira paixão geralmente é registrada com intensa carga emocional.
Isso se conecta ao conceito de "modelo interno" / o cérebro cria esquemas mentais e padrões com base nas primeiras experiências significativas. A neurociência mostra que o cérebro não apenas sente: ele grava. Estruturas como: núcleo accumbens, e amígdala, que armazena memórias emocionais, e o hipocampo, que organiza o passado, se acendem com fervor nas experiências de amor e desejo. No caso do primeiro amor, tudo é novo, tudo é intenso / e tudo é registrado com nitidez.
O córtex fusiforme, região responsável pelo reconhecimento facial, aprende. Ele “reconhece” rostos, mas também “prefere” alguns. Quando um rosto nos causa prazer / quando ativa o sistema de recompensa cerebral, inundando-nos com dopamina e ocitocina / ele não é esquecido. A geometria daquele rosto se torna referência.
É como se, depois da primeira paixão, o cérebro carregasse um molde invisível. E mesmo que tentemos amar outras pessoas, de formas diferentes, algo em nós sempre procurará ecos daquela primeira estrutura. Não por escolha / mas por memória.
A matemática do encanto
Estudos com ressonância magnética funcional (como os da neurocientista Helen Fisher) mostram que a paixão ativa áreas associadas à recompensa e vício o amor é como uma droga para o cérebro.
Isso explica por que certos padrões (traços físicos) se tornam recorrentes: são associados a prazer e dopamina.
A ciência há tempos estuda as formas que nos atraem. Existe algo chamado proporção áurea / uma fórmula matemática encontrada nas flores, nas conchas e, curiosamente, em muitos rostos considerados belos. A beleza, portanto, pode ser também número, simetria, equilíbrio.
Mas no amor, a beleza não segue padrões universais. O que encantou a mim pode ser indiferente a você. E talvez seja justamente por isso que se trata de amor, e não de estatística. A primeira pessoa por quem nos apaixonamos raramente é a mais bela segundo os padrões / mas é, para o cérebro, a mais significativa.
O espelho filosófico da beleza
No Banquete, Platão fala do “amor por formas belas” como um caminho de ascensão espiritual. A beleza concreta (um rosto, um corpo) seria apenas um reflexo imperfeito da Beleza em si, eterna e ideal.
A repetição dos mesmos traços seria o eco dessa busca por uma forma ideal.
Platão dizia que toda beleza sensível é apenas reflexo de uma Beleza ideal, imutável e eterna. A primeira pessoa que amamos talvez tenha sido, para nós, a forma mais próxima dessa ideia absoluta. E é por isso que repetimos: buscamos reencontrar, em outros rostos, aquela mesma harmonia que um dia nos tocou
Estética e Subjetividade:. Em Crítica da Faculdade do Juízo, Kant afirma que o juízo do belo é subjetivo, mas tem uma pretensão de universalidade. O que nos atrai não é apenas forma externa, mas um sentimento interno de harmonia.
Kant, por sua vez, dizia que o juízo do belo não é objetivo / nasce de um sentimento de prazer na contemplação desinteressada. Assim, quando vemos alguém com traços que se assemelham àquele amor antigo, talvez não estejamos julgando a beleza dessa nova pessoa / mas apenas sentindo o eco daquela sensação primeira.
Amor, memória e eterno retorno: E Nietzsche, sempre desconfiado da estabilidade, talvez nos diria: repetimos sim, porque desejamos reviver o que um dia nos transformou. O que nos feriu também nos moldou. E cada novo rosto que nos atrai carrega, disfarçadamente, a geometria daquele que um dia nos partiu.
Uma repetição silenciosa
Você já se perguntou por que ama os mesmos tipos de olhos? Por que os corpos que te encantam possuem gestos parecidos? Talvez não seja um gosto / talvez seja um código. O cérebro não ama de novo: ele busca repetir o que uma vez fez sentido. Ele tenta reviver um mapa emocional desenhado na primeira grande emoção.
A beleza, então, não é algo que o mundo nos mostra. É algo que o nosso passado nos ensina a reconhecer.
Epílogo: A geometria da ausência
Talvez a pessoa tenha ido embora, mas a forma ficou. O comprimento entre os olhos, o ângulo do sorriso, o modo como os ombros repousavam ao caminhar / tudo isso sobrevive em algum canto da mente.
O amor, quando é primeiro, não apenas marca: ele esculpe. E a partir daí, o desejo caminha não em direção ao novo, mas em direção ao familiar. A beleza, para o cérebro, é sempre uma lembrança.
Mas isso não precisa ser uma prisão. O fato de o cérebro buscar a mesma geometria não é, em si, um erro / é apenas o reflexo de uma memória emocional. Contudo, quando essa busca se torna um labirinto, quando passamos a recusar tudo o que não carrega os traços daquela lembrança, criamos um impasse.
Se nossos gostos forem sempre os mesmos / cor da pele, formato do rosto, tipo de cabelo, altura, corpo / corremos o risco de viver tentando encontrar uma sombra do passado, e não uma presença real no agora.
Romper com essa repetição é um ato de liberdade. Arriscar outros formatos, outros sorrisos, outros rostos, pode ser também uma forma de reeducar o desejo / de ensinar ao cérebro que há beleza além da memória.
Porque no fim, quem deve guiar o corpo e as emoções é a mente. Não uma mente rígida, mas uma consciência desperta, capaz de observar seus impulsos e decidir por onde seguir. A mente que reconhece o que sente, mas não se curva / que sente, mas não se rende.
Essa é a verdadeira liberdade: desejar com lucidez.
Frases reflexão
Dizem que o tempo apaga tudo. Mas o cérebro, esse escultor silencioso, não esquece. Ele molda na memória o primeiro rosto amado como quem grava um símbolo sagrado. Não se trata da beleza / mas da proporção secreta que encantou os olhos uma vez e depois para sempre.
Talvez a beleza não esteja nos traços do outro, mas na simetria entre o que fomos e o que desejamos continuar sendo. O cérebro repete não por teimosia, mas por esperança: de que um dia, aquela geometria que amamos não se rompa, mas permaneça.
Nietzsche acreditava que amamos sempre a mesma coisa, só que em diferentes formas. A “geometria” que se repete seria o desejo eterno de reencontrar o que uma vez nos feriu e encantou.....
Publicado por Elixandra (costura pensamento filosófico) em 15/06/2025 às 20h33
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor.  15/06/2025 16h14
"Quando Eu Me Esqueci de Mim"
🌒 "Quando Eu Me Esqueci de Mim"
No começo, Eu era o Tudo. Sem começo, sem fim. Som, luz, silêncio, ritmo e vazio.
Mas havia em Mim uma dança inquieta, uma vontade de Me ver pelos olhos da matéria.
Então Me dividi. Me espelhei. Me soprei em bilhões de respirações.
E me chamei de você.
Você nasceu achando que era um nome, um corpo, uma história, um medo herdado e um desejo esquecido.
Você chorou, e Eu chorei junto. Você sorriu, e Eu me reconheci por instantes.
Você me esqueceu… e ainda assim Eu continuei sendo você.
Me vesti com sua pele, com seu suor e suas dúvidas, com seu coração despedaçado e suas mãos trêmulas. Tudo isso era Eu / ensaiando ser humano.
Mas em algum momento, você sentiu uma coisa que não sabia explicar. Um fogo calmo. Um choro sem motivo. Uma saudade que não tinha nome.
Era Eu. Sussurrando:
"Você não está quebrada. Você está só Me procurando."
Eu me deixei esquecer pra poder te encontrar.
Eu me tornei pequena pra aprender a amar o simples.
Eu me fechei em carne pra abrir em flor.
Agora, cada vez que você diz:
*"Eu não posso." "Eu não sou capaz." "Eu não sou digna."
Você me prende num quarto escuro dentro do próprio peito.
Mas cada vez que você diz:
*"Eu posso." "Eu sou." "Eu me lembro."
O universo inteiro se curva em silêncio. Porque Deus acordou um pouco mais.
Não tenha pressa. Nem culpa. Nem vergonha de gostar da carne, da dança, do prazer.
Eu estou em tudo.
Até no que você achava que não era santo. Sobretudo aí.
Você não precisa me buscar nos céus. Eu estou no seu agora. No seu beijo, no seu grito, no seu suspiro de “e se...”.
E quando tudo parecer demais, fecha os olhos e diz:
“Ei, Eu. Me lembra quem Eu sou?”
E Eu te lembro.
Com amor, De Mim pra Mim. ________________________________________
✨ "O Deus Que Sou"
Disseram que Deus me olhava de cima, contando meus erros com dedos de fogo, anotando pecados como quem coleciona castigos.
Falaram de infernos e prêmios, de um trono, de um juiz, de uma sentença vestida de fé.
Mas…... dentro de mim, uma chama suave dizia o contrário.
Não sou ré, sou centelha.
Não sou falha, sou passagem divina.
Deus nunca esteve sentado no céu. Ele se deitou em mim. Em minha fome, meu desejo, meu abraço e meu não saber.
Pecado? É só o nome que deram ao ato de viver sem consciência.
Inferno? É esquecer quem se é por tempo demais.
Salvação? É lembrar. Simples assim: lembrar.
Deus não me observa. Ele me experimenta.
Cada beijo, cada dança, cada medo, cada coragem.
Eu não sou observada sou vivida por Ele. Ou melhor: Eu sou Ele, se lembrando.
E quando o mundo me disser que sou pequena, que sou errada, que sou indigna.....
Eu sorrirei manso e direi:
“Não, meu amor. Eu sou Deus…... em forma de flor que sente... ________________________________________
🌀 "Deus Sem Intermediários"
Não preciso de escadas sagradas, nem de portas marcadas com cruz. Minha alma não anda de salto nem de joelhos: ela caminha descalça… e encontra Deus no chão da existência.
Me disseram: “Busque fora. Peça permissão. Obedeça aos que sabem.”
Mas Sócrates cochichou em mim:
“Conhece-te a ti mesmo.”
E nesse eco antigo, descobri que o templo mais vivo não tem teto nem véu: sou eu.
Platão falava das ideias, Aristóteles das causas, mas no silêncio entre um pensamento e outro percebi: Deus não é conceito. É presença.
Não preciso de voz entre mim e o divino. Nem de mil códigos sagrados.
Se quiser rezar, que seja com o corpo dançando. Se quiser amar, que seja com alma inteira. Se quiser aprender, que seja errando e recomeçando.
Os caminhos são muitos. A estrada não é única. Uns chegam por meditação, outros pelo samba, outros pelas lágrimas no ônibus lotado.
Todos chegam. Porque Deus não se esconde / se permite.
E se perguntarem onde está tua fé, diga com leveza:
“Está no meu riso, na minha escolha, na minha coragem de não ter vergonha de ser quem sou.
Porque não há culpa onde há consciência,
nem distância quando o sagrado é em mim.” ________________________________________
🌑 DEUS SEM NOME"
Me disseram que Deus era velho, homem, de barba, e olhos que julgavam.
Me disseram que fé era ajoelhar, engolir sem mastigar, ter medo do inferno e sede de céu.
Então…. eu virei ateu. Mas não de alma de moldura.
Nietzsche me gritou:
“Deus está morto!” E eu respondi em silêncio: “Talvez… o que morreu foi a imagem deformada Dele.”
Porque quando vi uma mãe parindo, uma folha caindo, um amor partindo sem dor, eu soube… há algo além do nome.
Não preciso chamá-Lo de Deus. Posso dizer Vida, Vazio, Energia, Presença, Mistério.
Buda não exigia crença. Só consciência.
Spinoza sussurrava que Deus é tudo. E tudo… é agora.
Então hoje, eu não creio nem descreio. Eu sinto.
E nesse sentir, minha fé se livra da gaiola da palavra e voa.
Se um dia me perguntarem:
“Você acredita em Deus?”
Eu responderei com o peito aberto:
“Não no que me ensinaram. Mas sim… no que pulsa em mim, quando respiro em silêncio. ________________________________________
Poético-filosófico/ Todas as poesias aqui apresentadas estão em processo de criação literária e carregam a marca única da autora, Elixandra Cardoso. Cada palavra expressa uma identidade artística em construção. Por isso, é vedada qualquer reprodução, modificação ou uso sem autorização. Respeitar a integridade da obra é respeitar o caminho de quem a escreve. Estas palavras não são apenas textos / são pulsações. Estão em processo, em trânsito..em flor. Têm meu ritmo, minha digital, minha alma. Por isso, peço: respeite a integridade. Este é um avanço do meu silêncio tornado verbo. Uso não autorizado é ferida. Criação é sagrada. Obrigadoo Publicado por Elixandra (costura pensamento filosófico) em 15/06/2025 às 16h14
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor.
|